Inovações pedagógicas na alfabetização | parte 3
Letra A • Sexta-feira, 21 de Dezembro de 2018, 14:46:00
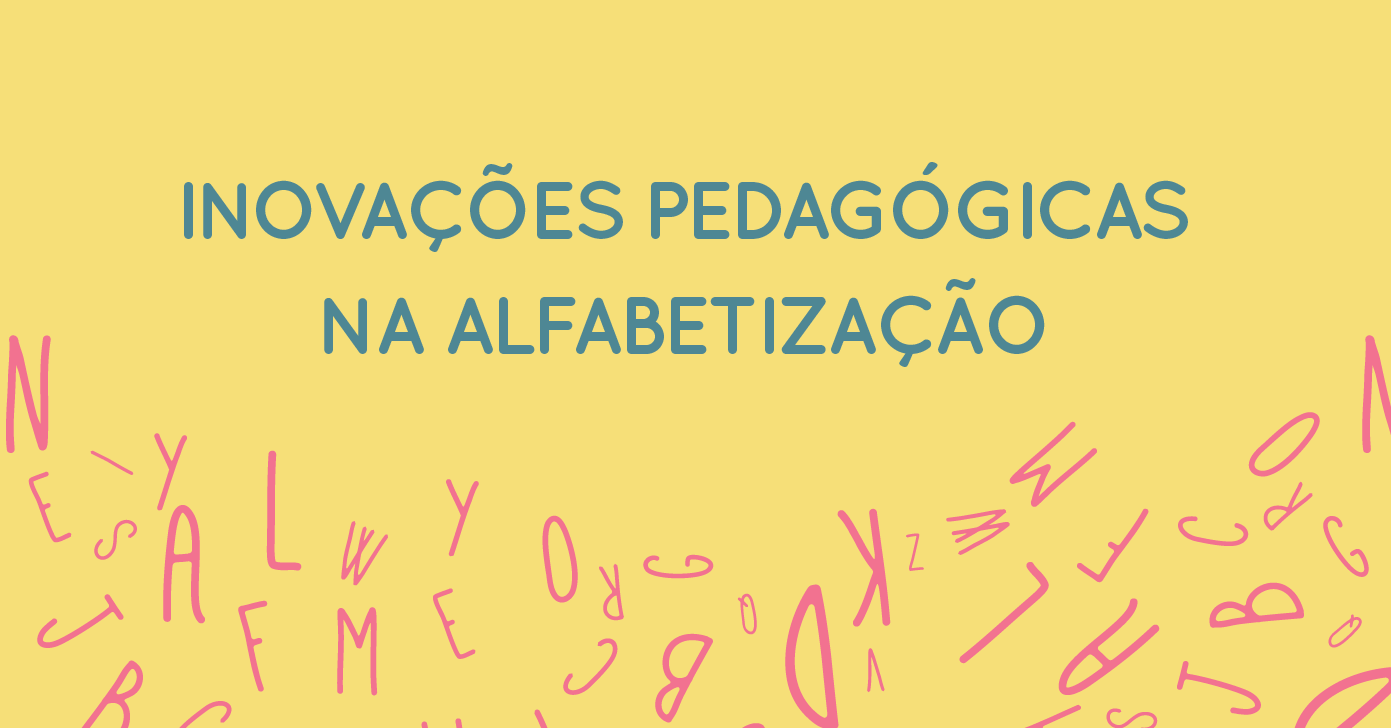
Linguagem em uma perspectiva interacionista e sociodiscursiva
Nos anos 1970, áreas como linguística, sociolinguística, psicolinguística e psicologia se preocuparam com questões da educação, e, no caso da alfabetização, deram atenção ao fenômeno do “fracasso escolar”. A professora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) Cancionila Cardoso explica que, embora a discussão do fenômeno já aparecesse nas décadas de 1930 e 1940, na década de 1970 o debate foi mais forte “porque é justamente quando a escola se abre mais para o povo, para uma população oriunda de classes trabalhadoras”.
Por muito tempo, o ensino da leitura e da escrita no Brasil esteve apoiado em uma concepção mecanicista e associativa do processo de aprendizagem, afirma Cancionila, por meio de muito exercício e repetição. Com a abertura política na década de 1980, tornando possível a formulação e acesso a novos estudos, essa perspectiva será trabalhada mais fortemente.
A professora da UFMT conta que houve uma virada em que se passou “a olhar a linguagem e o seu ensino de uma forma bem diferente, indo aí no caminho dos pressupostos de uma concepção mais interacionista e sociodiscursiva.” Para Cancionila, uma prática elaborada a partir de uma perspectiva interacionista e sociodiscursiva da linguagem “é aquela em que a criança tenha voz, fale de si e do seu mundo, para interlocutores reais que tenham interesse em suas produções.”
A partir desse olhar, a professora da UFMT defende que a apropriação do sistema de escrita alfabética deve ser concomitante à apropriação de textos escritos. “A criança pode aprender a escrever, escrevendo de verdade, desde o princípio, para um interlocutor preciso, valendo-se de diferentes gêneros textuais. A palavra de ordem é tornar o ensino mais criativo, mais democrático e, sobretudo, mais significativo para as crianças”, detalha.
Para auxiliar os professores no planejamento do ensino de textos escritos para crianças, Cancionila enumera cinco princípios: planejar situações de escrita com finalidades claras e diversificadas e com explicitação dos interlocutores do texto; realizar atividades prévias à escrita do texto (discussões, leituras, vídeos, explanação etc.), garantindo conhecimentos sobre o tema e sobre o gênero textual a ser utilizado; criar situações de planejamento geral dos textos (antecipadamente) e também de planejamento em processo; ajudar a criança a realizar a releitura-revisão de seu texto durante o processo e, também, na versão final do texto; fazer os textos circularem socialmente (nos murais da escola e entre interlocutores reais), cumprindo, assim, sua função discursiva e comunicativa e mostrando à criança sua função e funcionalidade.
Cancionila alerta que não há definição consensual de alfabetização no país, havendo conceitos em disputa, e que as definições mudam ao longo dos tempos. Além disso, esses conceitos convivem e entram muitas vezes em embates e disputas. Para exemplificar, ela cita os grupos, de forma generalizada, “para os quais tem uma grande relevância a apropriação do sistema de escrita alfabético” e os grupos “que defendem, radicalmente, a perspectiva discursiva de alfabetização.”
Na visão da professora da UFMT, essas questões orientam diferentes práticas e precisam ser compreendidas e discutidas pelos professores. “De pouco adianta termos conhecimentos disponíveis que apontem para uma nova episteme, se esses conhecimentos não chegarem até os professores alfabetizadores, aqueles que, de fato, fazem a alfabetização acontecer, instrumentalizando suas práticas.” Cancionila defende que isso deve ser buscado por meio da formação inicial e continuada.
O reconhecimento da heterogeneidade
Na época em que os estudos de Emília Ferreiro chegam ao Brasil, a ideia de homogeneização da sala de aula era muito presente e também desafiou os alfabetizadores a pensarem novas práticas. Para a professora da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Doris Bolzan, essa perspectiva veio como uma tentativa de tornar o trabalho “unitário”. Ela explica que ao pensar a aula para “um só” se tem “essa visão de igualdade no desenvolvimento e no desempenho.”
No entanto, Doris aponta que a heterogeneidade sempre esteve presente nas turmas; o que não havia era o reconhecimento dessa condição. Para Doris, o trabalho com grupos heterogêneos não é uma inovação, mas seu entendimento. “Eu diria que trabalhar com os grupos heterogêneos é dar a mão à palmatória e perceber que cada um tem o seu ritmo, que por mais que a gente deseje uma unidade, é praticamente impossível de obtê-la, porque, afinal de contas, cada um tem uma experiência cultural, em um tempo e espaço próprios.”
Na visão da professora da UFSM, a partir dos estudos psicogenéticos e da teoria histórico-cultural de Vygotsky, começa-se a “se dar conta de que aquela pressão que havia para se fazer um trabalho de homogeneização não tem mais sentido.” Para ela, como não existe um espaço formal na escola para se organizar o trabalho em torno das condições de cada indivíduo, mesmo havendo um discurso de que é necessário trabalhar com as diferenças, é necessário se distanciar da ideia de trabalho individual e criar uma estratégia para que a criança possa explicitar seu modo de pensar.
“E aí eu acho que o trabalho de interação grupal é que seria um elemento de reorganização das práticas, porque a dinâmica pedagógica na escola sempre foi aquela em que as crianças sentam umas atrás das outras, e são agrupadas de acordo com as suas competências ou com suas condições de aprender”, explica Doris. A professora argumenta que com a perspectiva da teoria histórico-cultural, “nós não vamos trabalhar com aquilo que ele não tem, mas com aquilo que ele já consegue ou pode produzir de sentido sobre o ler e escrever.”
Doris afirma que o trabalho grupal ainda não é uma realidade de muitas escolas. Nas escolas de Educação Infantil do seu município, ela constata que as crianças sentam em grupo, mas sem a intencionalidade muitas vezes de realizar trabalho coletivo. “É só uma forma de organização que está pautada em uma dinâmica em que a gente põe as crianças sentadas para fazer uma tarefa comum. Mas nem sempre fazer uma tarefa comum implica em colaborar um com o outro, trazendo suas ideias, seus modos de pensar.”
No Ensino Fundamental, no ciclo de alfabetização, a professora percebe que a proposta de trabalho coletivo é mais presente, “porque já se entendeu que, a partir das teorias de Ferreiro e Teberosky, e mesmo a teoria histórico-cultural ‘vigotskyana’, nós teríamos outros modos de pensar a organização do ensino.” No entanto, para a professora, evoluiu-se na forma de organização, mas não conceitualmente. “A gente ainda vê nas escolas as crianças sendo tratadas como se todas tivessem uma única resposta a dar sobre qualquer pergunta que o professor faz.”
A professora da Universidade Federal de Viçosa (UFV) Rosa Porcaro considera que os pressupostos ao se trabalhar com a heterogeneidade devem ser ‘freirianos’: “você não pode atuar com uma turma de educandos sem que você primeiramente conheça esses alunos. Além de conhecê-lo, considerar sua cultura, sua realidade” defende.
Continue lendo:
Parte 4 - Os projetos de trabalho
Parte 1 - Inovação na alfabetização


