Retrospectiva: Escolas, métodos e professores no Brasil e na França (2)
A edição número 8 do Letra A trouxe uma entrevista de Anne-Marie Chartier, concedida à pesquisadora Marildes Marinho em 2006
Letra A • Quarta-feira, 03 de Junho de 2015, 13:54:00

No plano lingüístico, tem sentido a argumentação por uma tendência de retorno aos métodos sintéticos antigos, como o fônico ou o silábico?
Nos últimos 20 anos, o discurso não mudou. O discurso científico diz sempre que a leitura é um ato cognitivo complexo que põe em jogo toda uma série de competências a serem trabalhadas. Para ler rapidamente, é preciso reconhecer palavras de forma automática, compreender frases, integrar informações. É preciso ser capaz de interpretar e produzir textos escritos. Bom, tudo isso forma um programa escolar muito extenso.
As pessoas que defendem a volta aos antigos métodos imaginam que a entrada nesse programa escolar pode ser linear: aprender primeiro a letra, o som, depois as sílabas, depois as palavras regulares, etc. Mas as crianças não funcionam assim. Quando uma criança vê e diz o nome de uma sílaba, como saber se ela leu ou decorou? Que critério posso usar para dizer que as crianças não lêem globalmente as sílabas?
Então, pode ser que, na prática da sala de aula, os discursos pedagógicos dos anos 1980 acentuaram demais o que parecia faltar nos métodos até então utilizados e enfatizaram o trabalho com textos e procedimentos de leitura que envolviam o levantamento de hipóteses. Nos métodos mais antigos, havia enorme quantidade de decodificação, decifração, procedimentos grafo-fonêmicos, mas havia pouca iniciação cultural e pouca interpretação de textos. Então, agora, a atenção a procedimentos como a decifração, voltou de forma intensa, talvez intensa demais, tornando secundária, mais uma vez, a exploração da compreensão, a iniciação cultural.
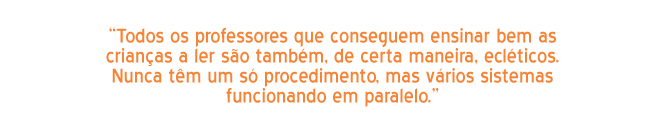
Qual a importância da leitura silenciosa e da leitura em voz alta?
Não se trata de optar por uma ou outra. A questão é saber o momento adequado para cada uma. Todos buscamos que, num certo prazo, o aluno possa ler de maneira silenciosa e eficaz. Mas o que se subestima é que a leitura em voz alta, ao contrário do que se disse em certa época, está extraordinariamente presente no espaço social de hoje. Os programas de televisão e rádio não seriam o que são se os apresentadores ou locutores não tivessem um texto para ler. Parecem estar apenas falando, mas não é verdade. Os políticos, quando discursam, também lêem em voz alta.
Mas é preciso distinguir duas coisas: a leitura em voz alta para crianças de 8 a 10 anos que estão treinando a leitura corrente, e para as crianças que estão no início da alfabetização. Para essas crianças que estão iniciando, não se pode dispensar a leitura em voz alta. É uma maneira de ler e de ouvir o som, de ajudar a memorizá-lo, etc. Uma outra coisa que me parece importante – e que, com freqüência, vejo ser evitada na sala de aula – é deixar um tempinho para a reflexão silenciosa, para que as crianças leiam “na própria cabeça”, isto é, silenciosamente. Nesse momento, as crianças subvocalizam, fecham a boca, mas pronunciam mentalmente, na velocidade da voz. Pode-se dizer que, em geral, para crianças que ainda não lêem visualmente mais depressa do que falam, a leitura oral pode ser de grande ajuda. O momento em que a leitura oral passa a ser desvantagem é quando os olhos já lêem mais depressa do que se fala.
Outra função da leitura oral é mostrar ao professor as dificuldades de interpretação, no momento mesmo da leitura. Nas palavras que não conhecem, as crianças imediatamente tropeçam. Então, percebemos que é preciso ensinar seu significado. Vemos também, na atenção à pontuação, o que não foi compreendido no registro das informações, no que chamamos de seqüenciação semântica. Logo, é preciso ajudar as crianças nesse ponto. A leitura em voz alta pelo professor, diante da sala, ajuda enormemente a criança a compreender um texto que ela pode reler, sozinha, em seguida. Então, é também uma ajuda pedagógica que não custa nada.
Hoje, é comum a impressão de que o fracasso escolar aumentou em relação às décadas anteriores. Os níveis de proficiência em leitura têm caído como sugerem algumas avaliações? O que você pensa do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA)?
Quando se é historiadora, como eu, tem-se a tentação de ver as coisas numa perspectiva de longa duração, de não falar de um nível de alfabetização em geral, que teria aumentado ou diminuído, porque, a cada período, o que chamamos de “saber ler” muda. Hoje, penso que a maioria dos professores é incapaz de ler e compreender um texto litúrgico como faziam as crianças do séc. XVII. Por outro lado, quanto aos textos de informática, dos jornais ou cientí- ficos, a competência em leitura aumentou enormemente. Então, quando se fala das avaliações do PISA, por exemplo, é preciso ver que abrangem períodos históricos muito curtos.
Também não é seguro dizer que a qualidade da alfabetização de base que se deseja no Brasil, hoje, seja a mesma de que se tem necessidade na Dinamarca. E o modelo no qual o PISA se baseou é anglo-saxão, dos países desenvolvidos. O tipo de prova que usam para avaliar as competências de base parte da hipótese de que são competências universais de que todos os países necessitam, não importando quais sejam as referências culturais, as necessidades econômicas ou o grau de desenvolvimento das populações dos diferentes países.
Quanto ao grau de alfabetização, é preciso ver que as exigências escolares e as exigências sociais também não são as mesmas. Por exemplo, na França, quando se pergunta quantos analfabetos adultos existem, as estatísticas dizem 4%. Mas, quando tomamos as crianças dos últimos anos do ensino fundamental, são 12 ou 15%. Por quê? Porque o objetivo, no início desse nível de estudos, é a capacidade de ler para ingressar no ensino médio e, depois, na Universidade. E quando se trata da alfabetização adulta, falamos da capacidade para os empregos, mesmo de baixa qualificação. Então, os objetivos não são os mesmos. É preciso ver bem que há dois modelos de sucesso escolar: o das aquisições de um núcleo comum, de um saber de base, e o de competências que permitirão uma escolarização posterior. Então, estamos sempre misturando dois tipos de coisas.
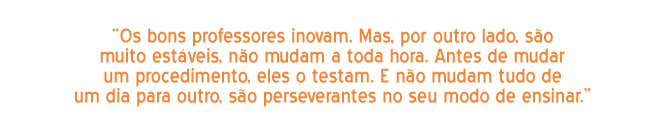
Um bom professor se forma com o tempo. Não se pode ser um bom alfabetizador em um ano ou dois. Todos os professores que conseguem ensinar bem as crianças a ler são também, de certa maneira, ecléticos. Nunca têm um só procedimento, mas vários sistemas funcionando em paralelo. Por exemplo: eles podem ter uma metodologia totalmente tradicional para a aquisição do código, mas têm sempre momentos de produção escrita ou de trabalho coletivo. Dispõem de uma série de instrumentos que utilizam de formas diferentes, de acordo com cada grupo de crianças.
Outra coisa é que eles têm uma grande memória das competências das crianças. Sabem dizer: aquele ali sabe isso, aquele lá não sabe aquilo. E isso não se aprende lendo teorias pedagógicas ou didáticas. Assim, eles freqüentemente podem intervir quando uma criança faz uma afirmação errada. E se outra criança comete o mesmo erro, eles não vão intervir do mesmo modo nos dois casos, porque conhecem o que aquelas crianças têm na memória.
Os bons professores inovam. Mas, por outro lado, são muito estáveis, não mudam a toda hora. Antes de mudar um procedimento, eles o testam. E não mudam tudo de um dia para outro, são perseverantes no seu modo de ensinar. Primeiro, criam uma grande estabilidade que dá segurança para a turma. Depois, gastam tempo para recolher indícios, antes de resolver um problema novo ou utilizar um procedimento inovador. Não estão sempre acrescentando como, com freqüência, os jovens têm vontade de fazer. Porque, em geral, o risco quando se acrescentam, por exemplo, novas leituras, com uma variedade de textos, é que, quanto mais quantidade, menos aprofundamento. O domínio completo da aprendizagem obriga a ser restritivo nas escolhas. Não se pode fazer tudo, mas o que se faz deve ser bem feito. (ENTREVISTA TRADUZIDA POR MARIA DE FÁTIMA INCHAUSTI E CERES LEITE PRADO. EDITADA POR SÍLVIA AMÉLIA DE ARAÚJO)


