Graça Paulino, em suas próprias palavras | parte 2
Letra A • Quinta-feira, 17 de Outubro de 2019, 17:02:00
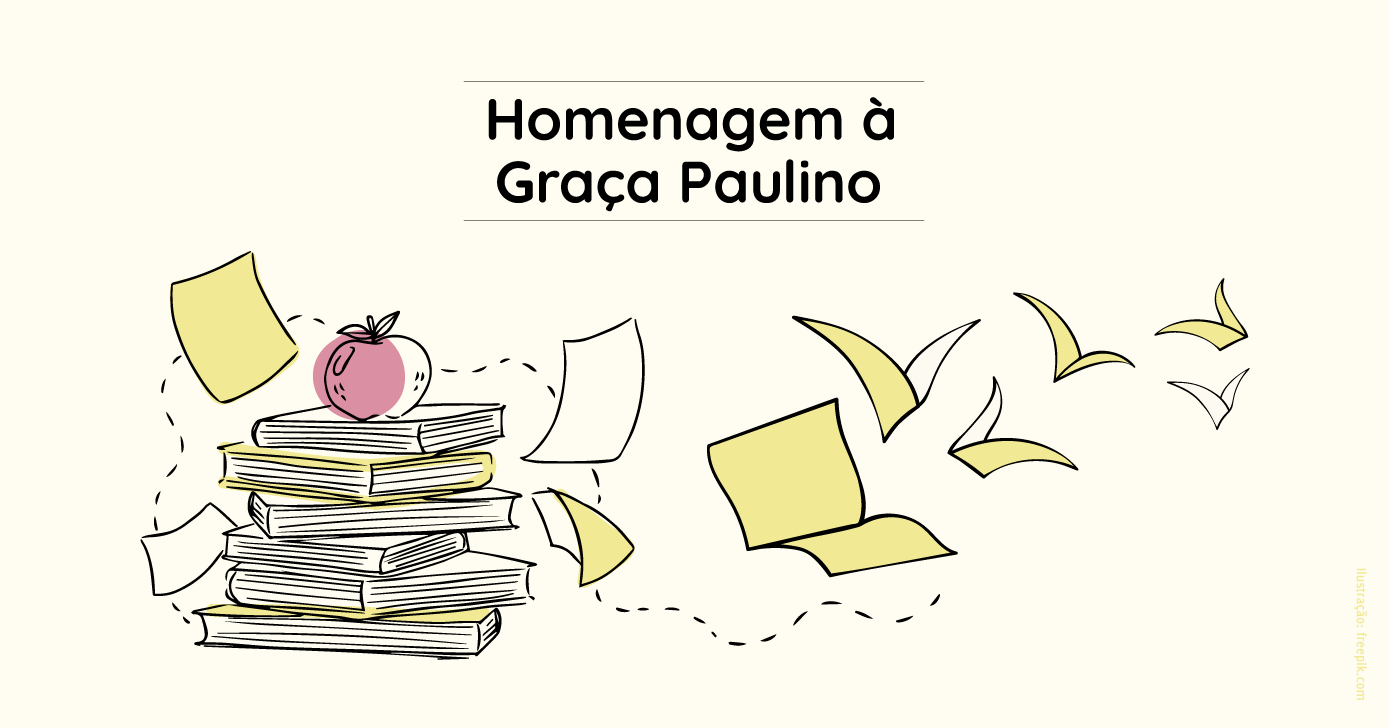
Da cozinha à mesa posta
Por Graça Paulino*
Minha vida no mundo da escrita
Cada um de nós se inscreve no universo da língua escrita de um modo bem particular, que depende de uma história específica de vida, com suas experiências, medos, projetos, lembranças, paixões, e tudo o mais.
Essa pessoalidade pode agravar, complementar ou questionar os condicionamentos que a sociedade letrada nos impõe, pois os dois níveis de existência, o individual e o coletivo, interagem o tempo inteiro, em nosso cotidiano de leitores nessas cidades construídas de jornais, revistas, livros, folhetos, cartazes, placas, cartas, bulas, receitas, rótulos, anúncios. O fato é que deixar de conviver nesse universo é impossível mesmo para os analfabetos, mas o jeito da convivência apresenta diferenças significativas de uma pessoa para outra. Por isso é que resolvi contar aqui minha história: para ver o que a distingue e o que a confunde com tantas histórias de leitores desse povaréu brasileiro.
Importância igual tem o que me aproxima de todos — nossa história coletiva de leitura — e o que me diferencia de todos — minha história pessoal de leitora. Todavia, costumo apontar a mim mesma como melhor exemplo das estranhezas que das experiências comuns. E me explico.
Nasci numa família de camponeses e operários analfabetos, que migrou do interior de Minas para a capital, Belo Horizonte. Corria então o ano de 1949, fechando a primeira metade do século, com suas guerras e revoluções de impacto mundial, das quais poucos matutos brasileiros tomaram conhecimento. Lembro que minha avó elogiava o Getúlio, e minha tia falava de uma boneca alamoa que tinha vindo de muito longe. Na roça, só o rádio garantia algumas notícias do mundo. Mas a luz elétrica iluminava poucas casas, fazendo com que os casos contados fossem acontecidos por perto mesmo.
Não vivi por muito tempo a lamparina, pois tinha um ano quando meu povo escolheu a Belo Horizonte progressista para morar. Mas, na cidade grande, viver sem saber ler era muito mais difícil. Por isso, quando entrei na escola, aos sete anos, carregava uma responsabilidade enorme, que era a de introduzir oficialmente meu grupo de parentesco no mundo letrado. Sentiam-se representados por mim, figurinha difícil e frágil para quem convergiam as expectativas de felicidade na leitura. E na escrita, é claro, porque não existe fronteira no mundo dos sonhos.
Na verdade, antes já havia aparecido entre nós um ser excepcionalmente dotado dessas poderosas letrações. Quando eu tinha quatro anos, minha mãe me arranjou o padrasto ideal: além de ser bonito e doce, além de possuir um Buick 49, que dirigia por Belo Horizonte inteira, ganhando a vida de taxista, o Quim tinha estudado até o quarto ano de grupo. Sua letra era linda, e ainda gostava também de desenhar. Lembro-me tão bem como se fosse hoje: uma vez pedi a ele que lesse para mim o que escrevera numa foto sua que minha mãe guardava. E ele leu:
Ouve estes versos que te dou.
Eu os fiz hoje que sinto o coração contente.
Enquanto o teu amor for meu somente,
eu farei versos e serei feliz.
Nunca me esqueci dessa quadra. Muitos e muitos anos depois descobri que os versos não eram dele, mas de J. G. de Araújo Jorge. Não tem importância a autoria real para mim. Aliás, mais ainda admirei o Joaquim Alves da Silva por ter-se apossado assim sem cerimônias do poema. Mas, e minha mãe, que nem sabia ler? Como será que recebeu esse presente? Decerto pediu que ele recitasse, e decerto isso fez com que seu amor aumentasse. O dele é que durou pouco. Em 1957, JK presidente, com o convite de novas estradas, ele trocou o Buick por um caminhão e sumiu no mundo.
Confesso que, quando cheguei à escola pela primeira vez, já sabia desenhar meu nome completo. Minha madrinha ensinara-me isso, a qual tinha trabalhado como professora de escola rural, onde deve ter sido essa a sua função. Eu me orgulhava muito do bordado a lápis, embora não fizesse sentido algum. Queria era saber ler e escrever de verdade, o que me ensinou dona Julieta, no primeiro ano do que na época se chamava curso primário.
Minha mãe foi quem se empenhou no meu sucesso no mundo da escrita de modo mais insistente: queria que eu tivesse todas as condições favoráveis para participar desse mundo novo, no qual ela mesma nem assumia tentar entrar. Hoje, doutora em Letras, sinto como se fosse em boa parte de minha mãe o título. No fim da vida, apesar de meus esforços alfabetizadores, ela apenas sabia ler soletrando bem devagar, entendendo muito pouco. Como poderia partilhar a condição privilegiada da filha doutora em Letras?
Ora, fazia parte do projeto de vida dela. Por ela frequentei a escola, e graças a ela pude ler em paz Michel Zevaco. Sim, Michel Zevaco, embora fosse autor de capa e espada, adquiria a seriedade de um autor científico, pois, ao me ver lendo, sem saber de que se tratava, minha mãe sempre dizia: vamos deixar a Graça em paz. Está estudando. Precisa estudar. Gosta de estudar. Não nego que eu tivesse certo gosto, mas sem ela seria tanto? Na verdade, minha mãe acabou inserindo-se no mundo da escrita de um modo transferido, projetivo, sonhador. Valeu. Sinto-me bem Paulo Setúbal: Minha mãe, Deus lhe pague. Em Confiteor, o escritor conta que disse isso no seu discurso, ao entrar para a Academia Brasileira de Letras. A mãe dele, se bem me lembro, estava velhinha e distante, no interior de São Paulo, rezando pelo filho. Decerto Paulo Setúbal terá sido mais católico, mais piegas e mais importante que eu na sua fala. Mas, se li sua autobiografia na adolescência e até hoje me lembro dessa passagem, temos um ponto em comum: Minha mãe, Deus lhe pague.
Nem todas as mães que zelam pelos filhos letrados são analfabetas como foi a minha. Creio que nós, que sabemos ler, se quisermos, saberemos defender o direito de alfabetização verdadeira para todos. Numa sociedade letrada, o analfabeto vive uma carência e uma exclusão social que degradam o cotidiano de todos, tanto quanto qualquer outra miséria. O caso dos adultos analfabetos é de solução mais difícil que o das crianças, talvez até mais grave. Filhos doutores não bastam, de fato, se não tivermos pais leitores.
Sei que meu caso é exceção. Possivelmente sirvo para mostrar que nossa organização social é aberta, democrática, simpática. Não é bem assim, quando a regra é a desigualdade e a injustiça. Hoje, mudar de classe graças à escola, sem lesar o próximo ou a pátria, está mais difícil do que nunca. Dispenso-nos do hiperbólico elogio da leitura pela leitura, porque sei que não basta devorar livros para melhorar como pessoa. Mas o direito de acesso ao mundo escrito é de todos.
Minha mãe, como outros milhões de brasileiros, teria participado mais diretamente das qualidades dos textos escritos, se não tivesse internalizado essa “façanha” como algo acima de suas forças. Assim pensava por sua história particular, ou assim foi levada a pensar por poderosos interesses econômicos, dependentes da ignorância alheia? Confesso que não sei. Tudo se funde nesses episódios trágicos, em que o indivíduo é ator e vítima das ideologias. Repito que a pessoa, em sua vida, ora fortalece e complementa, ora questiona aquilo que lhe é imposto de fora. Às vezes fica tudo misturado, este é o problema.
Conheço, por exemplo, gente que conseguiu um falso acesso ao mundo da escrita, e ficou satisfeita com isso. Não vejo valia em saber balbuciar, de modo apático, uma sequência de palavras sem sentido de verdade. Infelizmente, no século XX, a situação de exclusão não só permaneceu como cresceu, às vezes declarada, às vezes diluída pelos “mobrais”. Há quem ache que o governo deva ignorar os adultos analfabetos, para investir apenas nas crianças. Trata-se, talvez, de um trauma decorrente do fracasso do Mobral, com suas estatísticas falsas e seus métodos mais mentirosos ainda. O fato é que a escola pública brasileira deve estar aberta, de fato, para todos os cidadãos que dela precisem, sejam estes crianças ou adultos.
Também há os que duvidam da “serventia” da língua escrita para os cidadãos mais pobres. Vão forçar os miolos, para depois ficar reclamando da vida, do salário baixo, da hora extra sem ganho, das anotações erradas, e até de falta do pão? Ora, façam-me o favor! Para bater bem a enxada, não carece de letra, não! Assim pensam os coronéis que se acostumaram a explorar a mão de obra e o voto dos analfabetos, mantidos na condição de escravos, sem direito à casa, comida, educação e atendimento médico pelo seu trabalho.
Ainda conheço, e alguns bem de perto, aqueles representantes de esquerdas radicais que julgam a leitura prejudicial do ponto de vista “ético”, porque se trataria de uma imposição cultural, capaz de levar as pessoas a um assujeitamento aos padrões dominantes, dos quais o cidadão estaria mais “livre” sem saber ler. Parece pouco provável que essa “liberdade” dos analfabetos se afirme diante da condução de opinião pública levada a cabo pelo rádio e pela TV no país. Não estamos mais, como no meio deste século, de lamparina na mão. Os matutos, assim como os favelados analfabetos, convivem diariamente com as mensagens que os aparelhos de rádio e televisão fazem chegar à sala humilde de suas casas humildes. E o controle mais fácil é esse dos analfabetos: livros e jornais são muitos, canais e emissoras são poucos.
Continue lendo:
Parte 3 - De pessoas a personagens
Parte 4 - Favores, presentes, troféus: livros na escola
Parte 1 - Graça Paulino, em suas próprias palavras


