Graça Paulino, em suas próprias palavras | parte 4
Letra A • Quinta-feira, 17 de Outubro de 2019, 17:13:00
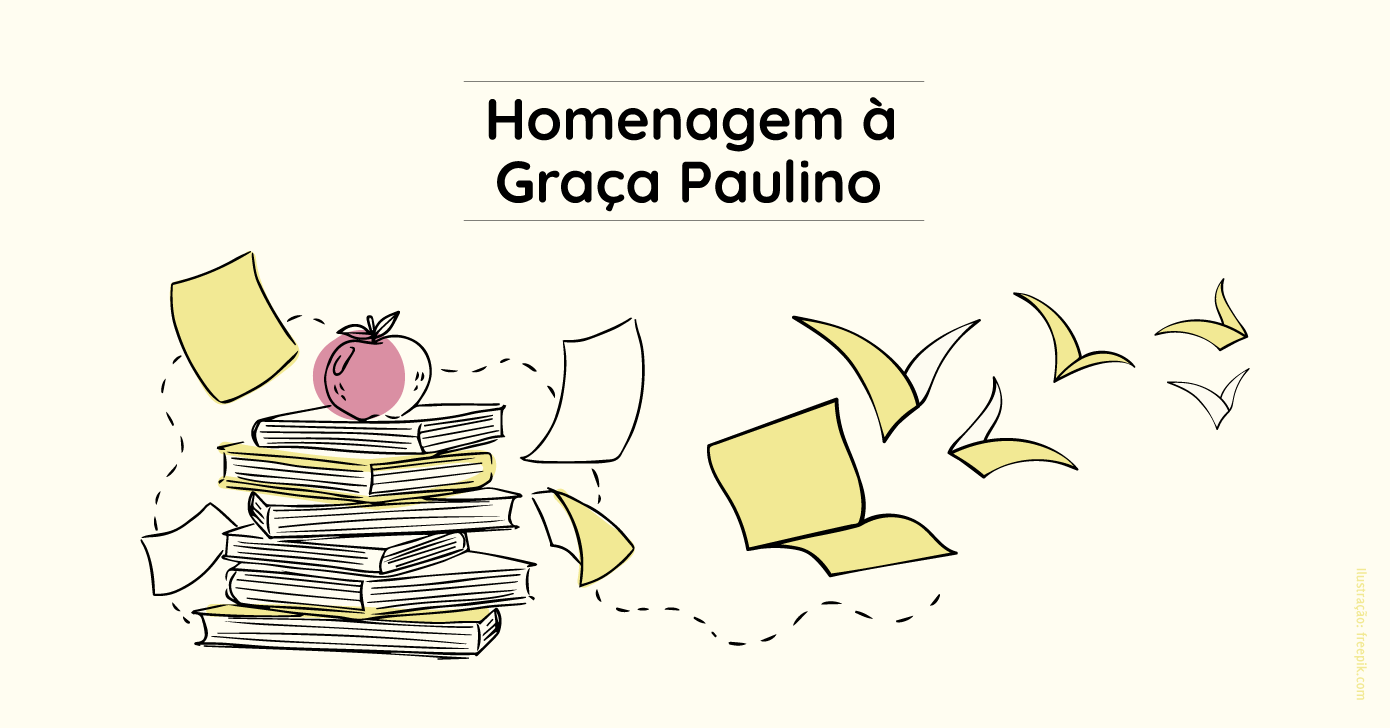
Favores, presentes, troféus: livros na escola
Quando, em 1955, fui levada pela primeira vez à escola, esperava penetrar no universo de livros que em minha casa não existia. Nasci sem biblioteca, e, aos sete anos, imaginava rapidamente aprender a ler e começar a ter acesso aos livros. Engano bobo: os livros seriam mais difíceis do que eu pensava.
Apenas grandes cartazes exibiam para nós a história de Lili. Ah, o livro, esse primeiro e preciosíssimo livro... apenas alguns puderam comprá-lo, e eu não estava entre estes. Dona Julieta, uma santa professora, apesar de muito brava, chegava com as fichas de cartolina manuscritas, todos os dias. Eu achava as historinhas da Lili simplesmente o máximo:
Olhem para mim.
Eu me chamo Lili.
Eu comi muito doce.
Vocês gostam de doce?
Eu gosto tanto de doce!
Alguém pode achar simplesmente tolice uma menina aparecer dizendo que comeu muito doce porque gosta muito de doce. Por acaso doce é um assunto relevante, digno de se tratar numa cartilha? Não haveria temas mais nobres, mais inteligentes e mais candentes? Sei que só pensaria assim quem não foi alfabetizado pela cartilha da Lili. Alienada, sim, fora da realidade nossa, sim. E daí? Lili tinha um piano, uma cadelinha chamada Suzete, um amigo, o Joãozinho, que por sua vez era dono do Totó. Fora isso, uma patinha, uma galinha Nanica, um burrinho... e a vovó. Qualquer Paulo Freire se arrepiaria de horror, mas as crianças mineiras de 1955 adoraram essa turma de personagens.
Mentira, não posso falar por todas. Acabo de lembrar-me do tanto de colegas, aqueles que iam descalços para a aula, chorando, de castigo no corredor da escola, quase todos os dias, no primeiro ano. Depois sumiram, ou ficaram para trás. Minha mãe me comprava um Vulcabrás por ano (ai, como o dedão do pé doía a partir do mês de agosto!), mas não me comprou o livro da Lili, que a escola prometeu e não deu. Talvez incentivada pelos sapatos, não fiquei para trás junto com aqueles que dona Julieta, a brava, denominava “os moleques”. Aliás, acho que fui bem para frente, porque me apaixonei pela Lili. Doces, piano, amiguinho bonzinho, bichos. Tinha cheiro de classe média, que para mim era a classe alta, onde devia ser muito bom estar aninhada, comendo muito doce.
Seriam os livros caros como hoje? Acho que custavam uma fortuna, pois eu não conhecia quase ninguém que tivesse livros, nem a escola podia tê-los à vontade. Se íamos à biblioteca, o que acontecia muito raramente, uma velha e casmurra professora lia para nós em voz alta os preciosos textos, em livros — preciosíssimos livros — que não podíamos tocar. Distantes, eu os desejava cada vez mais, enlouquecia de vontade de ter especialmente um deles, que contava coisas extraordinárias: As mais belas histórias, de Lúcia Casassanta. Era uma antologia de contos infantis do mundo inteiro, narrados com leveza, rapidez e técnica narrativa quase impecável. A biblioteca tinha esse livro, dona Julieta tinha esse livro, dois colegas ricos tinham esse livro. Mais ninguém. Deviam ser mesmo muito caros os livros em 1955.
Assim, virgem de livros, passei os dois primeiros anos da escola. Aqueles colegas ricos, muito ricos, milionários, pois éramos todos muito pobres, compraram, no segundo ano, um livro de Ciências e outro de Geografia. Confesso que planejei um roubo, mas não cheguei a realizá-lo. Não por virtude que fosse mais forte que a minha enlouquecida vontade de ler. Não virei ladra de livros especialmente porque me tornei amiga das filhas do patrão de minha mãe, e elas passaram a emprestar-me seus livros “usados”. Melhor mesmo foi quando resolveram liberar-me o acesso ao Tesouro da Juventude, e acreditem, ao melhor livro de todos para mim na época, As mais belas histórias, fonte inesgotável de prazeres na minha infância.
Eram duas as filhas do patrão. Sei que uma delas, já moça, morreu. A outra, não por acaso de nome Auxiliadora — Auxiliadora Pacheco, de Belo Horizonte, Bairro Padre Eustáquio — quero que saiba, se estiver lendo esta minha história, que nesses tantos anos jamais esqueci o gesto fraterno e fundamental de emprestar-me os livros seus quando éramos meninas tão pequenas e de classes sociais tão diferentes. Perdemos contato, tão logo mudei de endereço e minha mãe de emprego, mas minha difusa gratidão dura a vida inteira.
A gratidão, sim, mas a paciência, não. No fim do curso primário, incomodava-me um pouco aquela minha dependência bibliográfica das filhas do patrão, mesmo porque elas nunca liam os livros que tinham e achavam meio esquisita a minha tara. Na quarta série, ao fim de muito choro, obtive de minha mãe a permissão para ir sozinha, de ônibus, ao centro de Belo Horizonte, onde se localizava a Biblioteca do SESC. Foi emocionante: eu tinha um registro pessoal, independente, e um cartão que me permitia levar para casa dois livros por vez, com uma semana de prazo para devolvê-los. Comecei, sei lá porquê, pela coleção dos escritores que tinham ganhado o prêmio Nobel. Gostei de alguns, não de outros, que mal entendi. Depois passei por Mark Twain, Hemingway, Erico Veríssimo, Tolstoi. Não tinha de pedir permissão a ninguém, era só escolher e ler. Melhor: para todos os efeitos, em casa, eu estava sempre estudando. Li Bertrand Russel e Michel Zevaco, li Krishnamurti e Faulkner. Tudo misturado, muito livro fora de hora. Entretanto, era comer bacalhoada com feijão e farinha. Uma delícia. José Mauro de Vasconcelos ainda não tinha escrito Meu pé de laranja lima. Se tivesse, decerto o leria também.
Passei a adolescência inteira a ler e a roer as unhas. Talvez não fosse um esporte muito saudável, mas eu não queria saber de outro. As pessoas me pareciam sem encantos, comparadas às personagens. Meu primeiro namorado, Da cozinha à mesa posta 81 por exemplo, detestava literatura, e só falava de automóveis. Coitado... um silvo breve: atenção, siga.
O fato é que a escola de meus primeiros anos fez bem pouco para alimentar meu prazer de leitora. Apenas a professora da terceira série, no grupo escolar, me dera de presente um livro, o primeiro livro que ganhei na vida. Era um livrinho no sentido exato do termo, pois pertencia à Coleção Formiguinha, de uma editora de Portugal. Ela presenteou a todos os seus alunos, mas, particularmente a mim, com esse livrinho lindo. Na contracapa, a dedicatória que, se esqueci, recrio: Para minha querida aluna Maria das Graças, com o abraço de sua Professora Leny. Senti-me muito importante. Você já deve ter morrido, Leny, pois já era velhinha em 1957. Mas, se em algum lugar da imaginação dos poetas ou na fé dos religiosos, os mortos podem continuar fazendo a leitura dos vivos, a senhora, você, minha querida professora, deve estar feliz com o acerto de seu gesto. Até hoje me lembro da história: os dois corcundinhas. Viviam outrora, bem longe das gentes... dois corcundinhas. Viviam outrora, bem longe das gentes...
No fim do curso primário, ganhei um prêmio pelo primeiro lugar geral. A cerimônia foi no cinema do bairro, no lugar da tela uma mesa grande com flores, e minha mãe, minha madrinha, minhas tias, meus primos na plateia. Chamaram alto meu nome completo. Caminhei até o palco com as pernas bambas e a vista escura. A diretora me abraçou e me entregou de presente uma caneta tinteiro. Parker, não: Compactor. Assim mesmo valia muito para mim, mas em silêncio indaguei: por que não era um livro? Quando desci, minha mãe me esperava aos prantos.
Talvez pelo destaque, consegui uma bolsa de estudos no colégio de freiras mais próximo: Colégio São Pascoal. O ensino me parecia vagaroso, as colegas me pareciam bobas e alegres. O pior não era isso, era a eterna falta de livros. A aula de biblioteca continuava a mesma do grupo. Os livros trancados em estantes envidraçadas, e a gente ouvindo, ouvindo. As irmãs detestavam minha insistência em lê-los. Vi que A carne, de Júlio Ribeiro, estava lá, ao lado dos Sermões do Padre Vieira. Não entendia aquela convivência. Será que o padre era pornográfico? Consegui-o na biblioteca pública e intuí o motivo do veto: raciocinava de modo brilhante o tempo inteiro, e raciocinar nunca combinou bem com os artigos de fé. Permaneci três anos nessa escola estranha, em que a norma era pensar pouco. Na verdade, quem ia se tornando meio estranha era eu.
A partir da quarta série do ginásio tornei-me aluna do famoso Colégio Municipal de Belo Horizonte. Era um só, vai ver que a cidade tinha muito menos gente precisando de escola pública... Os professores me pareceram imponentes, distantes, verdadeiros sábios. Ganhavam muito bem, os professores públicos daquela época. Mas o melhor é que o Colégio Municipal tinha uma biblioteca de verdade. Era um cômodo enorme, repleto de estantes sem vidros, abarrotadas de livros. Podíamos levá-los para casa, tal como nas bibliotecas normais da cidade. Passei a pegar no mínimo uns quatro livros por semana.
Comecei a gostar de poesia. O professor de português fizera um comentário terrível sobre um poeta, Carlos Drummond de Andrade, que tinha um poema reproduzido no nosso livro didático. Tinha ouvido dizer que o poeta gostava de meninas colegiais, da nossa idade. Não entendi direito a intenção do professor, mas fui direto aos livros de Drummond. De repente a poesia me chegava, me atingia a alma e a cabeça, e eu queria saber de cor os versos, queria guardá-los comigo pelo resto da vida. Decorei muitos, não só de Drummond, também de Fernando Pessoa, Manuel Bandeira e Cecilia Meireles. Este era o meu quarteto preferido.
Não troquei as narrativas pela poesia, porque sempre senti as duas muito diferentes. Acima de todos os meus conhecimentos teóricos, que me permitem entender as misturas dos gêneros, ficou sempre essa força das leituras de minha juventude. Mas, até hoje me lembro também de outra história: os meus professores. Viviam outrora, bem perto das novas gentes... Mandavam-me ler, sim, sempre para provas. Certa vez, num ano que agora corresponde ao nono ano, o professor, Enio Birchal, mandou que lêssemos O Guarani. Resolvi declarar (às vezes não o fazia, curtindo o pretexto de reler) que já tinha lido o livro, e pedi que me fosse indicado outro. Irado, talvez, ele determinou que eu lesse Oração aos moços, de Rui Barbosa. Na prova, foi pedido que comentasse uma passagem famosa: “A lei da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam”. —
Questionei. acreditem, atrevidamente, o “Águia de Haia”. Questionei. Quem está quinhoando? Com qual autoridade? Quem lhe delegou tal poder? Que critérios foram usados para estabelecerem quais as desigualdades? Na época, 1964, poderia interpretar-se minha prova como anti-militarista e a minha argumentação como subversiva até. Hoje me soa mais como um questionamento ao neoliberalismo, que só tem uma resposta certa para todas Da cozinha à mesa posta 83 essas perguntas: o mercado. O mercado vive quinhoando desigualmente as pessoas e estabelecendo medidas arbitrárias de desigualdade.
De qualquer modo, ganhei nota máxima e passei a ser chamada de Rui pelos colegas e pelo professor. Tornei-me Rui por ter ousado ler sem subserviência o texto de Rui. Com certeza, ele também terá feito isso ao ler outros textos. Por exemplo, quando propaga como lei dos homens o poder de “quinhoar”, retira de Deus aquela que deveria ser sua exclusiva potência. Claro que a justiça divina só pode ser derivada da fé. A morte, por leucemia, de uma encantadora criança aos cinco anos de idade, só pode legitimar-se pela fé em Deus, que, afinal, é aquele que escreveria certo por linhas tortas. Nenhum outro ‘juiz” assumiria como necessária essa morte. Mas certos juizes sociais se sentem acima de Deus, e seus desmandos não têm limites.
Enfim, ruis barbosas à parte, acredito que li pouco e mal para meus professores. Precocemente tornei-me arrogante, atitude que só a crise de identidade da adolescência poderia explicar. Julgava meu repertório de textos o máximo. Pobre de mim, a cada ano que passa vejo só aumentar o número de livros que devo e quero ler. Mas, pelo menos dei início bem cedo à tarefa gratíssima de circular sem medo pelos labirintos das páginas impressas.
É claro que, cercada de livros por todos os lados, eu só poderia chegar a uma Faculdade de Letras, onde imaginei uma convivência melhor com a literatura. Na verdade, tinha-me interessado a teoria literária quando ainda estava no segundo ano clássico. Ao perceber isso, meu grande professor Luiz Carlos Alves, cognominado O Baiano, apressou-se em me oferecer emprestado um exemplar da Teoria da Literatura de Austin Warren e René Wellek. Assim incentivada, não só fui parar na Faculdade de Letras da UFMG, como também logo me tornei estagiária de Teoria. Em 1975 comecei minha carreira de professora universitária. Não que o curso, por si mesmo, me levasse a isso. Mais uma vez eu me frustrara por não encontrar um ambiente de leitura e leitores que fosse instigante, prazeroso, motivador. Mais uma vez eu li para provas e trabalhos frios, contra os quais diversas vezes me rebelava em silêncio.
A escola tem como objetivo explícito trabalhar no sentido de introduzir os alunos no mundo da escrita, ajudando-os a desenvolver as habilidades de leitura e produção dos textos existentes em nossa vida social. Falar disso é fácil, mas no Brasil a prática tem sido outra. Como professora, tentei e tento mudar essa realidade. Minha tese de Doutorado, intitulada Leitores sem textos, faz parte dessa série de tentativas. Debrucei-me sobre a questão da falta de leitura literária no Brasil de hoje, analisando as causas dessa falta de gosto popular pelos livros. Uma delas, com certeza a mais determinante, está na própria maneira idiota com que a escola tem trabalhado a leitura.
Aliás, desde meu tempo de pequena estudante, algo já estava errado nas escolas com relação à leitura. O livro didático, à primeira vista, seria um instrumento adequado para que os alunos se habituassem ao trato com o texto escrito. Mas, por que, depois da Lili, nunca mais simpatizei com meus livros didáticos? Achava-os frios, confusos. Hoje entendo. Acontece que, quase sempre, os professores escolhem os livros de seu agrado, fora do alcance de alunos. Para resolver o problema assim criado, multiplicam-se as aulas expositivas que repetem, oralmente, o que já estava escrito no livro. É uma tragédia.
Resultado: os alunos continuam dependentes da palavra falada, sem entender por seus próprios meios o escrito de um livro que parece ser real mas não é. Nas provas, o professor formula as questões por escrito, mas as lê em voz alta, reapresentando-as com os recursos da língua oral. Ao repetir oralmente o conteúdo de um livro, ao ler em voz alta, “traduzindo” as questões propostas por escrito, o professor acomoda seus alunos a um monitoramento que, no mínimo, transforma-os em analfabetos funcionais. Segundo o linguista mineiro Mário Perini, todo alfabetizado que não consegue entender os textos escritos de que necessita, dispensando a transmissão oral de informações e instruções, não consegue fazer da leitura um instrumento útil na vida diária, e, na verdade, é um analfabeto funcional.
De analfabetos literários as escolas também andam cheias, e sei disso desde os anos cinquenta, quando pisei pela primeira vez numa sala de aula. A maioria dos alunos frequenta aulas de português por vários anos sem aprender a ler literariamente narrativa e poesia. Por ler literariamente um texto, entendo que o leitor seja capaz de sentir prazer, prazer este associado à recriação verbal e à liberação da fantasia, num diálogo próprio da experiência artística. Normalmente, porém, os alunos leem livros que não escolheram, para serem avaliados de forma “objetiva”, isto é, leem para depois provarem que foram atentos e fiéis a um sentido que está pronto no texto, o qual só lhes resta reproduzir. Pensando bem, é muito triste nossa história de leitores na escola. E esta eu quero que tenha final feliz. Com relação à realidade, concordo com Cecília Meireles: “A vida só é possível reinventada”. Como já lhes contei, havia uma plateia orgulhosa me vendo receber o primeiro diploma. A menina cheia de letras era uma honra para a família. Hoje já estão quase todos mortos. Apenas minha madrinha reza por mim ainda. Mas é a todos, a todos eles, que dedico esta minha história que continua e continua... reinventada.
*O texto foi cedido para reprodução pela Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio e pela família de Graça Paulino e retirado do livro Ler & Fazer (abaixo).
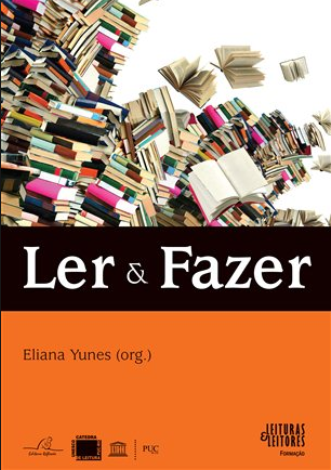
Ler & Fazer. Yunes, Eliana (org). Rio: Editora PUC-Rio - Catedra Unesco de Leitura / São Paulo: Editora Reflexão, 2010 – Coleção Leituras & Leitores. 152 p.
Continue lendo:
Parte 1 - Graça Paulino, em suas próprias palavras
Parte 2 - Da cozinha à mesa posta
Parte 3 - De pessoas a personagens


